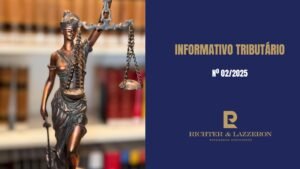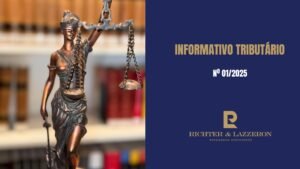A segurança jurídica é um tema importante, que permeia, de certa forma, todas as relações jurídicas, assim como as relações entre sujeitos e bens. Embora não se apresenta de forma expressa no texto constitucional, parece certo e aceitável, a possibilidade de extração implícita do princípio da segurança jurídica. Não é um metaprincípio ou um princípio moral, mas um princípio jurídico que irradia seus efeitos para toda a seara jurídica, por ser inerente ao Direito.
Assim como a justiça, também a segurança jurídica é uma exigência da sociedade, por isso cabe ao Direito, por meio de instrumentos e mecanismos jurídicos, orientados por uma racionalidade jurídica estabelecer uma previsibilidade dos efeitos decorrentes da atuação estatal em benefício da proteção dos direitos.
É neste contexto que se insere o Registro de Imóveis no Brasil, como um instrumento, um meio, um método de intervenção assecuratória do Estado da propriedade imobiliária e dos demais direitos, que por força da Lei e do Direito são cometidos a esta organização técnica e administrativa destinada a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Contudo, esclarece-se que a segurança, muito antes de ser jurídica e que surgiu com o Estado de Direito, já era uma preocupação do indivíduo. É a própria autopreservação o principal pressuposto da segurança visada pelo homem. Na pré-história, que data de 500.000 a 4.000 a.C., anterior à escrita, período que pode ser dividido em três fases: Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, o homem satisfazia suas necessidades básicas junto à natureza.
Ao que tudo indica o homem Paleolítico ou da pedra lascada preocupava-se, basicamente, com as demandas de sobrevivência, notadamente alimentação e proteção do corpo, por isso habitava cavernas compartilhadas com animais selvagens. Tinha uma vida nômade, portanto, sem habitação fixa e alimentava-se da caça de animais de pequeno, médio e grande porte, da pesca e da coleta de frutos e raízes. A própria linguagem era pouco desenvolvida, baseada em pouca quantidade de sons, sem a elaboração de palavras. Uma das formas de comunicação eram as pinturas rupestres. Através deste tipo de arte, o homem trocava ideias e demonstrava sentimentos e preocupações cotidianas.
Já o homem Mesolítico – período entre o Paleolítico e o Neolítico – apresentou importante evolução em comparação com o homem paleolítico, porque desenvolveu meios de sobrevivência mais segura. Dominou o fogo, desenvolveu a agricultura e a domesticação dos animais. Isso fez com que o homem diminuísse sua dependência em relação à natureza, o que permitiu a fixação de residência, a divisão do trabalho por sexo.
O homem pré-histórico, Neolítico ou da idade da pedra polida, atingiu um grau importante de desenvolvimento e estabilidade, porque fixou residência, criou animais, cultivou a agricultura e desenvolveu a metalurgia. Tudo isso potencializou as atividades desenvolvidas até então e, sobretudo, permitiu a produção de excedentes agrícolas e sua armazenagem, garantindo o alimento necessário para os momentos de seca ou inundações. Neste contexto as comunidades foram crescendo e logo surgiu a necessidade de trocas com outras comunidades, ocorrendo um intenso intercâmbio entre vilas e pequenas cidades. Além disso, foi também nesta época que surgiu “O movimento de apropriação fundiária (…), com a construção das primeiras moradias permanentes e com o cercamento das primeiras hortas e quintais privados. ” (MAZOYER,2010, P.376)
À medida que o homem abandona os primeiros estágios da pré-história, certamente a preocupação da segurança aumenta. Se durante o período Paleolítico a preocupação era com a segurança do próprio corpo, no sentido de mantê-lo vivo, por meio da alimentação extraída da natureza e o abrigo em cavernas; no período Neolítico, especialmente a produção do excedente e a apropriação da terra fez nascer novas preocupações em termos de segurança. Em razão disso, começa a desenvolver mecanismos de proteção.
No final da era neolítica, ou seja, da pré-história para a Antiguidade, surge a escrita, ou ao menos os historiadores aceitam como certo o aparecimento da escrita na Mesopotâmia e no Egito. A partir desse momento o homem passa a dispor de um meio muito mais eficaz do que a comunicação verbal, porque a informação não se perde facilmente como ocorre com a fala, além de poder perpetuá-la no tempo e com isso, alcançar um número maior de pessoas.
A escrita não deixa de ser uma forma de segurança, embora não necessariamente jurídica, a despeito de a origem do direito situar-se na formação das sociedades e isto remonta a épocas muito anteriores à própria escrita. O direito surge com a finalidade de regular as relações humanas, visando à paz e a prosperidade social, com o objetivo de alcançar o bem comum e obter a justiça. É a partir do direito que surge a noção de segurança jurídica, ou seja, a segurança por meio do Direito. Esclarece-se que a segurança jurídica como a conhecemos hoje foi uma construção histórica que passou por diversos estágios.
Na Idade Média, que abrange o período que vai do século V da era cristã até a queda de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, em 1453, apresenta como principais marcos, a expansão dos reinos bárbaros na Europa, a transformação do escravismo em feudalismo, o surgimento dos impérios feudais, a expansão do cristianismo e do islamismo, o renascimento do comércio e das cidades medievais e o apogeu da civilização maia, na América. Neste período haviam várias ordens jurídicas, muitas vezes se sobrepondo umas às outras.
De acordo com (Grossi, 1996, p. 52), “He aqui como debemos aproximarnos al Derecho medieval: como a una gran experiência jurídica que alimenta en su seno una infinidad de ordenamientos, donde el Derecho – antes de ser norma y mandato – es orden, orden de lo social, motor espontâneo, lo que nace de abajo, de una sociedad que se autotutela ante la litigiosidad de la incandescência cotidiana construyéndose esta autonomia, hornacina propia y auténtica protectora del individuo y de los grupos. La sociedad se impregna de Derecho y sobrevive porque ella misma es, antes que nada, Derecho debido a su articulación en ordenamientos jurídicos”
Esta infinidade de ordenamentos jurídicos existentes na Idade Média, acabou por estabelecer os fundamentos dos ordenamentos jurídicos europeus, notadamente sobre as bases das sociedades romano-germânicas da alta Idade Média. Neste sentido, (Wieacker, 1967, p. 15). “Os primórdios dos ordenamentos jurídicos europeus encontram-se nas formas básicas de vida das sociedades romano-germânicas da alta Idade Média e nos três grandes poderes ordenadores que a antiguidade tardia tinha deixado: os restos da organização do império romano do ocidente, a igreja romana e a tradição escolar da antiguidade tardia, restos que os novos povos e tribus assentes no antigo corpo do império e no centro da Europa receberam e de que se acabaram por apropriar”
A pluralidade de ordenamentos jurídicos e a policentria do poder política não contribuíram para a instituição de um sistema de segurança jurídica eficaz, justamente em razão da fragmentação e pluralidade de sistemas jurídicos. A segurança jurídica tem como um de seus pressupostos a unicidade do direito, o que só começou a ser construído a partir da Idade Moderna – Período entre a queda do Império Romano do Oriente e a Revolução Francesa, em 1789, que tem como principais marcos, o fortalecimento dos Estados nacionais monárquicos, a expansão marítima e colonial, o fortalecimento e expansão do capitalismo – que se torna a forma de produção predominante –, o renascimento cultural e científico, a fermentação revolucionária do iluminismo e a independência norte-americana.
A segurança jurídica começa a ser moldada com a chegada do iluminismo e a Revolução Francesa, quando se buscou a segurança jurídica para defender os direitos fundamentais, notadamente o direito de propriedade. Portanto, é a partir da unicidade do direito – e sua codificação – que se buscou a segurança jurídica. Esse processo condicionou a sociedade e o mundo jurídico, no sentido de que só o direito pode assegurar a ordem e a segurança necessárias ao progresso. “O resultado dessa nova percepção é o abandono tanto da descentralização do poder como do pluralismo de ordenamentos jurídicos, em busca de unificação dos territórios, a fim de permitir a formação de um Estado Nacional soberano e detentor do monopólio de produção das normas jurídicas” (MACIEL, 2008)
Hoje vivemos no contexto da Idade Contemporânea – que cobre o período do final do século XVIII, a partir da Revolução Francesa, até a atualidade. Os principais marcos, são o período napoleônico (1799 a 1815), a restauração monárquica e as revoluções liberais (1800 a 1848), a revolução industrial e expansão do capitalismo (de 1790 em diante), a disseminação das nacionalidades e das doutrinas sociais (a partir de 1789), o surgimento do imperialismo, a 1a Guerra Mundial (1914-1918), as revoluções socialistas, a expansão da democracia, o surgimento do fascismo e do nazismo (1917-1938), a 2a Guerra Mundial (1939-1945), a Guerra Fria (1948-1990) e a desagregação da União Soviética (1991), no qual reaparece o pluralismo jurídico, desafiando novamente a segurança jurídica como um dos fins do Direito.
Em linhas gerais, o medo da morte fez com que o indivíduo procurasse segurança para proteger a vida; o medo da destruição das coisas fez com que o indivíduo procurasse segurança para os seus bens; o medo das forças da natureza e do desconhecido fez com que o homem buscasse segurança na religião; o conceito de segurança foi o pai da Arte, da Arquitetura, da Medicina, da Astronomia, da Matemática, da Física, do Direito e de todas as áreas do conhecimento; contudo, a ideia de segurança está no Estado, com fundamento numa ordem jurídica, por isso Direito é, por excelência, o instrumento de segurança.(ÁVILA, 2011)
De acordo com (PEREZ LUÑO, 2000) “La formación conceptual de la seguridad jurídica, como la de otras importantes categorías de la Filosofía y la Teoría del Derecho, no ha sido la consecuencia de una elaboración lógica sino el resultado de la conquistas políticas de la sociedad. La seguridad constituye un deseo arraigado en la vida anímica de hombre, que siente terror ante la inseguridad de su existencia, ante la imprevisibilidad y la incertidumbre a que está sometido la exigencia de seguridad de orientación es, por eso, una de las necesidades humanas básicas que el Derecho trata de satisfacer a través de la dimensión jurídica de la seguridad”.
A incerteza acompanha o homem e, por mais paradoxal que possa parecer, ao mesmo tempo que o homem busca a segurança para resolver alguma segurança, outras inseguranças vão surgindo, o que faz com buscamos mais segurança. Isso, de certa forma revela, que a segurança jurídica apresenta um grau de limitação. Contudo, a despeito desse cenário, é no Estado de Direito e o seu sistema de segurança jurídica que buscamos nos assegurar.
Cabe ao Estado de Direito assegurar os direitos, notadamente os direitos fundamentais, assim como os sociais fundamentais, que em face de sua dimensão objetiva acabam por se irradiar à toda ordem jurídica. Sem essa dinâmica, haverá desproteção aos referidos direitos e não haverá imunização às ameaças e os riscos. Por isso, a segurança jurídica converte-se em valor jurídico para a concretização de todos os valores constitucionais. Nesse sentido a segurança jurídica pode ser considerada como um instrumento assecuratório dos direitos que envolvem autonomia privada, notadamente, liberdade e propriedade.
Ao prever um direito, o ordenamento jurídico tem que instrumentalizar a ordem jurídica visando a proteção e a eficácia desse direito. Quanto ao direito de propriedade a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em seu artigo 17, prevê que “todo indivíduo tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros e que ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade”. O direito de propriedade, assim como os demais direitos, requer instrumentos protetivos, que podem variar de país para país. O Direito de propriedade, como direito fundamental, na sua acepção objetiva requer a instrumentalização protetiva, que se dá no plano organizacional e normativo.
No cenário brasileiro o Registro de Imóveis, instituição jurídico-formal, é que tem por finalidade dar segurança jurídica aos direitos e aos fatos inscritos. No plano organizacional – o Registro de Imóveis no Brasil de organização técnica e administrativa destinado a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos que lhe competem, enquanto que no plano normativo – a função registral imobiliária é tipicamente estatal, portanto, jurídica.
A origem dos serviços de registros imobiliários, contudo, é anterior ao próprio Estado, razão pela qual podem ser considerados como pré-jurídicos e, por isto, pré-estatais. É com a instauração do Estado de Direito, que aos poucos estas atividades vão sendo assumidas pelo Estado, como guardião da segurança jurídica.
Registra-se que foi a partir da vigência da Lei Imperial de n.° 601/1850, que a publicidade da legitimação de posse dos imóveis passou a ser feita em livro da Paróquia Católica, o chamado registro do vigário, portanto, não era o Estado que assegurava a legitimidade da posse, mas a Igreja. O Estado por meio da Lei Orçamentária de n.° 317/1843, regulamentada pelo Decreto n.° 482/1846, criou o registro de hipotecas, como instrumento de segurança jurídica para o crédito. (CARVALHO, 1997, p.2-3)
O Estado brasileiro ao assumir as atividades repassou a execução delas em favor de pessoas naturais, que embora atrelados ao Poder Judiciário, não faziam parte do quadro de servidores titulares de cargos do Judiciário. No Estado do Rio Grande do Sul foram denominados de serventuários do Foro Extrajudicial, titulares de cargos isolados, de acordo com o Código de Organização Judiciária.
Esse Código em seu artigo 125 previa que “as serventias do Foro Extrajudicial são oficializadas, excetuados os Tabelionatos e os Ofícios Distritais e de Sede Municipal, e os respectivos cargos isolados, de provimento efetivo, serão providos mediante concurso público, obedecidos os critérios e exigências da lei. Além disso, as taxas e custas previstas em lei serão recolhidas aos cofres do Estado, salvante as custas devidas aos Tabeliães e aos Oficiais Distritais e de Sede Municipal. Esclarece-se que a redação do artigo 125 e seu parágrafo único tem a redação dada pela Lei Estadual de n.° 8.131/86, anterior à Constituição Federal de 1988 e permanece inalterada.
A partir da vigência da Constituição de 1988, instaurou-se uma nova ordem nesta matéria, em face de disposição expressa de que estes serviços são executados por delegados. O artigo 236 da Constituição federal foi regulamentado pela Lei federal n.º 8.935, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o estatuto do notário e do registrador público das pessoas naturais, das pessoas jurídicas, de títulos e documentos e de registro de imóveis.
Esta lei, contudo, não define de forma clara a natureza jurídica do vínculo de delegação e, além disso, se o serviço é federal ou estadual. Na perspectiva de Estado Democrático de Direito, o Estado executa inúmeras funções públicas, com o fito de atender as demandas públicas. Para tanto utiliza o instrumental que a ordem jurídica disponibiliza e executa atividades tipicamente estatais e outras atípicas, mas de sua responsabilidade por imposição constitucional.
Atividades típicas de Estado são aquelas com expressão jurídica, ou seja, contribuem para a segurança jurídica do cidadão e da sociedade como um todo, que de acordo com os ensinamentos de (TÁCITO, 1975, p.198-199), “atende-se à preservação do direito objetivo, à ordem pública, à paz e à segurança coletivas”. Uma das características que diferenciam as atividades típicas ou jurídicas do Estado das atividades atípicas ou sociais, é a fruição indivisível pela sociedade, em benefício de seus interesses primários, em oposição à fruição divisível que caracteriza os serviços atípicos, em benefício de seus interesses secundários (MOREIRA NETO, 2006, p. 425).
A rigor, as atividades jurídicas são consideradas como indelegáveis, pois de acordo com (MOREIRA NETO, 2006, p. 112) são “impostas como próprias do Estado, e necessária condição de sua existência.” Estas atividades, a rigor, são executadas pelo próprio Estado ou de forma descentralizada por meio de entidades autárquicas. Neste caso o Estado ao criar a autarquia já lhe transfere por força de lei a titularidade do serviço e a conseqüente execução.
Estas atividades não são consideradas serviço público em sentido técnico, porque não contemplam ações de natureza prestacional, capaz de ser fruída individualmente. Ao contrário, as atividades jurídicas visam imediatamente ao Estado ou à sociedade indistintamente considerada, assim como a atividade de polícia administrativa (ARAGÃO,2007, p. 167)
Efetivamente as atividades jurídicas executadas pelo Estado têm finalidade distinta das atividades sociais ou materiais. A primeira é indelegável, porque é condição de manutenção da ordem jurídica e social, enquanto que a segunda visa atender as demandas públicas capazes de serem fruídas individualmente, a despeito de entendimentos diversos na doutrina estrangeira.
No direito italiano, por exemplo, forjou-se a separação entre função pública e serviço público. De acordo com (JUSTEN, 2003, p. 86-87) “Essa divisão parece ter sido uma necessidade para a qualificação técnico-jurídica das atividades da Administração Pública.” Na sequência a autora explica de modo genérico esta distinção, conforme a seguir transcrito: “De modo genérico, difundiu-se que “a função pública” compreenderia todo tipo de atividade jurídica autoritativa, inerente à soberania do Estado, tais como a polícia e a diplomacia, destinada a satisfazer os interesses da coletividade no seu conjunto. A função pública seria a expressão do poder administrativo. Por serviço público, entendeu-se uma atividade social, imputável, direta ou indiretamente, ao Estado ou a um ente público, caracterizada pela prestação técnica ou material em favor dos cidadãos (segundo alguns, singularmente considerados). O serviço público, como atividade administrativa, não estaria revestido de autoridade. “
A instituição registro de imóveis tem por finalidade prevenir conflitos e dar segurança jurídica em face dos atos e fatos da vida civil. Ela compreende serviços voltados diretamente ao cidadão, por meio de instituições (CUNHA e DIP, 2001, p. 261) denominadas de instituições da comunidade (ERPEN, 199, p.103-104), que podem ser consideradas como parcelas do Estado.
No plano doutrinário, as atividades registrais imobiliárias, assim como as notariais e dos demais registros públicos ainda são carecedoras de estudos acadêmicos que têm por objeto enfrentar questões como conceitualização, classificação, natureza jurídica, delegação entre outros pontos, o que gera controvérsias. Este fato é corroborado por (SILVA, 2005, p.873), ao asseverar, que: “É antiga a controvérsia sobre a natureza jurídica desses serviços. Não raro são chamadas serventias de justiça, de acordo com a concepção de que seriam auxiliares da justiça. Mas essa caracterização só tem sentido real em relação à escrivães e secretários do juízo. O mesmo, porém, não se dá em relação aos notários e registradores, visto como são profissionais autônomos pelos atos de seu ofício, “gozam de independência no exercício de suas atribuições” – bem o diz o art. 28 da Lei 8935/1994. De fato, a doutrina contemporânea excluiu do quadro dos auxiliares da Justiça todos aqueles que exerçam atividades que não sejam inerentes às que se realizam no processo, como são as serventias do foro extrajudicial”.
São atividades que contribuem para viabilizar a concretização dos direitos fundamentais do cidadão, razão pela qual, a natureza pública é inafastável. Contudo, não possuem natureza prestacional, como as atividades materiais que o Estado executa ou coloca à disposição da sociedade para maior comodidade ou utilidade pública. No plano conceitual (MELLO, 1979, p.17) afirma: “que a atividade notarial e de registro, embora não considerada um serviço público de ordem material (atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível diretamente pelos administrados, prestada pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, sob um regime de direito público), o é de ordem puramente jurídica”
A Constituição Federal – artigo n.º 236 – qualifica as atividades notariais e de registros públicos como serviços e estabelece que são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. Se a execução destes serviços por particulares pressupõe prévia delegação, induvidosamente, são considerados serviços públicos. Na sequência, o parágrafo primeiro do artigo 236, dispõe que a lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Ou seja, a execução desses serviços está orientada e condicionada pelo Direito, o que afirma sua natureza jurídica e ao controle do Poder Judiciário. Ademais, os notários e os registradores públicos estão sujeitos a um estatuto jurídico (Lei Federal 8.935/94) de direito público, que estabelece os direitos, obrigações, responsabilidades e impedimentos do vínculo de delegação.
A cobrança de emolumentos, que são considerados taxas tanto pela doutrina e também pelo Supremo Tribunal Federal-STF, não é de livre estipulação pelos notários e registradores. Lei federal 10.169/2000 dispõe a respeito das regras gerais e os Estados da Federação, por meio de leis estaduais disciplinam a cobrança dispondo sobre os fatos geradores, bases de cálculo, alíquota e isenções.
Os serviços notariais e de registros públicos são considerados como atividades jurídicas específicas, prestadas ou colocadas à disposição dos interessados, de forma divisível, logo, os emolumentos cobrados pela sua prestação, são taxas. Neste sentido, averba-se o entendimento de (SACHA, 1999, p. 424-425). “Aceite-se que as custas e os emolumentos são taxas pela prestação dos serviços públicos ora ligados à certificação dos atos e negócios, ora conectados ao aparato administrativo e cartorial que serve de suporte à prestação jurisdicional. Nada impede que o legislador cobre taxas pela prestação dos serviços públicos, específicos e divisíveis, ligados à certificação de atos e negócios ou ligados à prestação jurisdicional. Nada o impede de destinar a outros fins o produto arrecadado. O Estado não está obrigado a aplicar apenas no setor público que a gerou o produto da arrecadação da taxa e, desde que a lei permita, poderá direcioná-lo até mesmo para pessoas (tabeliães) ou instituições, com o fito de cooperar em fins assistenciais e previdenciários (fins públicos). É que para a caracterização jurídica da taxa é irrelevante o destino de sua arrecadação”.
O Supremo Tribunal Federal (STF – ADIN 1.378-5), em face do regime jurídico dos serviços notariais e de registros públicos, e da conseqüente natureza jurídica, função revestida de estatalidade, sujeita a um regime jurídico de direito público, firmou entendimento no sentido de que emolumentos possuem natureza de taxa. A jurisprudência do Supremo tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se (…) ao regime jurídico constitucional pertinente a essa especial modalidade de tributo vinculado, notadamente aos princípios fundamentais que proclamam, dentre outras, as garantias essenciais da reserva de competência impositiva, da legalidade, da isonomia e da anterioridade. A atividade notarial e registral, ainda que executada no âmbito de serventias extrajudiciais não oficializadas, constitui, em decorrência de sua própria natureza, função revestida de estatalidade, sujeitando-se, por isso mesmo, a um regime estrito de direito público.
O Supremo Tribunal Federal (STF – ADIN 1.378-5) também já concluiu que os notários e os registradores públicos são órgãos da fé pública instituídos pelo Estado e executam, nesse contexto, atividade eminentemente pública, carregada de estatalidade, qualificando-os como agentes públicos.
A possibilidade constitucional de a execução dos serviços notariais e de registro ser efetivada “em caráter privado”, por delegação do poder público” (CF, art. 236), não descaracteriza a natureza essencialmente estatal dessas atividades de índole administrativa. As serventias extrajudiciais, instituídas pelo Poder Público para o desempenho de funções técnico-administrativas destinadas “a garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos” (Lei n.º 8.935/94, art. 1º), constituem órgãos públicos titularizados por agentes que se qualificam, na perspectiva das relações que mantêm com o Estado, como típicos servidores públicos
As atividades, por serem eminentemente públicas, são executadas por agentes públicos, pessoas naturais que executam funções regidas predominantemente por um regime de direito público. “A função é o círculo de assuntos do Estado que uma pessoa, ligada pela obrigação do direito público de servir ao Estado, deve gerir. (CRETELLA JÚNIOR, apud Mayer, 1999, p. 2157)
A ideia de função está intimamente ligada à noção de atividade, de um facere e não é exclusivamente pública. É pública quando regida pelo Direito Público. Neste sentido (CRETELLA JÚNIOR, apud Basavilbaso, 1999, p. 2157), afirma que “A idéia de função implica, necessariamente, em atividade e quando esta se refere a órgãos do Estado (lato sensu) é pública ou estatal”.
Função pública, no entender de (CRETELLA JÚNIOR, 1999, p. 2157) é a “realização de qualquer ato juridicamente prescrito é, portanto, relativo ao sistema do Estado considerado em sua unidade, o que constitui o exercício duma função e o agente que concorre para a perfeita integração do ato é órgão do Estado”. Exercer uma função pública, também não é exclusividade de agente público titular de cargo público, vinculado a órgãos do Poder Público central ou entidades de natureza autárquica, assim como de ocupantes de empregos públicos. Função pública pode, também, ser desempenhada por agente delegado.
A despeito de opiniões em contrário, as expressões função pública e funcionário público não são correlatas, pois de acordo com (CRETELLA JÚNIOR, 1999, p. 2157) “não só existem funções públicas que são desempenhadas por agentes estranhos aos quadros do funcionalismo como também inversamente, há funcionários que podem acidentalmente não estar, de modo ativo, no desempenho de suas funções”.
Induvidosamente, a atividade registral imobiliária é desempenhada no exercício de uma função pública, a despeito de serem executadas a partir de cargos ou empregos públicos, mas por força de delegação do Poder Público. Corrobora, neste sentido, as lições de (SILVA, 2005, p.873-874), a seguir transcritas: “É fora de qualquer dúvida que as serventias notariais e registrais exercem função pública. Sua Atividade é de natureza pública, tanto quanto o são as de telecomunicações, de radiodifusão, de energia elétrica, de navegação aérea e aeroespacial e de transportes, consoante estatui a Constituição (art. 21, XI e XII). A distinção que se pode fazer consiste no fato de que os últimos são serviços públicos de ordem material, serviços de utilidade ou comodidade material fruível diretamente pelos administrados, enquanto que os prestados pelas serventias do foro extrajudicial são serviços de ordem jurídica ou formal, por isso têm antes a característica de ofício ou de função pública, mediante a qual o Estado intervém em atos ou negócios da vida privada para conferir-lhes certeza, eficácia e segurança jurídica; por isso, sua prestação indireta configura delegação de função ou ofício público, e não concessão ou permissão, como ocorre nas hipóteses de prestação indireta de serviços materiais – consoante justa observação de Celso Antônio Bandeira de Mello. Ou seja – conforme Frederico Marques: o registro público desempenha uma função de administração pública de interesses privados”.
O registro de imóveis é uma instituição que executa serviço público de natureza jurídica, pois de acordo com (DIP, 2005, p. 186) “assenta no seu caráter social e na sua teleologia (ou enteléquia) de segurança jurídica, que não se passa, em definitiva, num âmbito de somatórios individuais”. O mesmo pode ser dito em face da atividade notarial, que na sua teleologia também tem compromisso com a segurança jurídica.
A despeito da natureza pública da função registral, nem por isso. Necessariamente. se trata de atividade estatal, como pode ser conferido a seguir por (DIP, 2005, p. 186), “definido o caráter público das funções, atividades e serviços ordenados à segurança jurídica, (…) nem por isso se hão de julgar necessariamente estatais esses serviços, funções e atividades, com que se engastaria o radical equívoco de supor que o direito público é o mesmo que direito do Estado (…) ignorando o pluralismo jurídico, o amplificado papel (até mesmo normativo) dos corpos intermediários e as exigências do princípio da subsidariedade.”
Em nível de conclusão (SILVA, 2005, p. 874) afirma que “as serventias de notas e de registro público são organismos privados que prestam um serviço público, desempenham uma função pública” e, que “atuando em nome próprio e por sua conta e risco, desempenham uma função em substituição da Administração Pública”.
O Registro de Imóveis pode ser conceituado como uma instituição jurídico-formal, a cargo de um Oficial Público por força de delegação, que tem por atribuição legal à capacidade para publicizar (registrar, averbar e informar) fatos jurídicos que dizem respeito a bens imóveis, com efeitos constitutivos ou declaratórios do direito real de propriedade, ou direitos reais que recaem sobre o direito real de propriedade imobiliária e ainda, direito de natureza obrigacional, bem como atos ou fatos que dizem respeito aos sujeitos que figuram nos registros, sempre que a lei assim impuser ou autorizar, com a finalidade de dar autenticidade, segurança e eficácia jurídica.
Portanto, a instituição Registro de Imóveis no Brasil compreende um conjunto de atividades jurídicas, qualificadas como função pública, regidas por leis e atos administrativos normativos, notadamente das Corregedorias-Gerais de Justiças dos Estados e do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, sob responsabilidade de uma pessoa natural – delegatária de função pública – cuja finalidade é dar segurança jurídica a atos e fatos jurídicos relacionados predominantemente a direitos reais relacionados a imóveis.
Feitas estas considerações acerca da segurança jurídica e da instituição registro de imóveis, passar-se-á às considerações sobre o direito de propriedade na perspectiva da Constitucional, assim como o Código Civil e a legislação que regra os mecanismos de proteção do direito de propriedade, notadamente no âmbito do Registro de Imóveis.
A Constituição Federal no artigo 5.º, inciso XXII prevê expressamente que é garantido o direito de propriedade e, na sequência, expressa que a propriedade deve se sujeitar à função social. Além da função social, a propriedade também tem uma função econômica, afirmação que pode ser extraída do artigo 170 que inaugura a Ordem Econômica, como também tem uma função ambiental, pelo que se depreende do artigo 225 da Constituição Federal.
Neste cenário Constitucional o Registro de Imóveis, por meio de um sistema de publicidade, assegura a estabilidade das situações jurídico-prediais, notadamente na garantia do direito de propriedade constituído ou declarado por meio de ato registral, assim como os demais direitos reais que recaem sobre o direito de propriedade, sem prejuízo assecuratório de outros direitos de matiz não real.
Por isso, o Registro de Imóveis está voltado precipuamente para cumprir as exigências da segurança jurídica estática dos direitos reais inscritos, embora estejamos caminhando para a segurança jurídica dinâmica – Lei federal n.º 13.097/2015 –, que segundo (DIP, 1987), é a que dá segurança jurídica “ao comércio e ao crédito predial”.
O Código Civil contempla o direito material relacionado aos direitos reais e a Lei dos Registros Públicos – Lei 6.015/73, entre outras – dispõe sobre o direito adjetivo, ou seja, estabelece o regramento processual que rege a inscrição dos atos e fatos jurídicos no Registro de Imóveis, com vistas à segurança jurídica.
No artigo de n.º1.227, o Código Civil, dispõe: “Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (artigos 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”.
O Brasil adotou um sistema registral imobiliário publicista-constitutivo, ou seja, as aquisições que têm como causa um negócio jurídico entre vivos, somente se constitui por meio do ato registral no Registro de Imóveis. Em outras palavras, a aquisição do direito não ocorre sem que tenha havido previamente o ato registral de publicidade constitutiva. A segurança jurídica dependerá não apenas do ato registral válido, mas também, da validade do negócio jurídico causal, porque todo ato registral constitutivo de direito real, tem como fato gerador um negócio jurídico.
Não dependem de publicidade constitutiva as aquisições que decorrem de fatos, aos quais a própria lei atribui o direito, independentemente de um ato de vontade, como ocorre, por exemplo, com as aquisições por força de fato morte, usucapião, desapropriação, etc. Embora não haja acorde de vontade, a segurança jurídica dependerá, também, da validade do título apresentado para a publicidade registral desses fatos.
O sistema Registral Imobiliário brasileiro, a despeito de ser constitutivo, não adotou a eficácia saneadora, típica dos sistemas que adotaram a fé-pública, que opera efeitos jure et jure. Adotou o princípio da legitimação registral que opera eficácia juris tantum. O sustentáculo da segurança jurídica dos atos jurídicos praticados no Registro de Imóveis, com a finalidade de proteger os direitos inscritos, reside na presunção juris tantum que eles gozam.
A Lei dos registros Públicos – 6.015/73 – dispõe em seu artigo de n.º172 que: “No Registro de Imóveis serão feitos, nos termos desta Lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, “inter vivos” ou “mortis causa” quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade”.
A escrituração no âmbito do Registro de Imóveis é feita por meio de atos de registro e de averbação. Os primeiros são os principais, também chamados de autônomos, porque não são dependentes de outros atos, razão pela qual, são os praticados para a publicidade constitutiva e declaratória de direitos, enquanto que os atos de averbação são atos acessórios, que alteram, modificam, cancelam, entre outros, outro ato registral previamente existente.
Esclarece-se, que o registro imobiliário brasileiro é inscritivo de atos e fatos jurídicos donde resultam direitos, que gozam de presunção juris tantum e descritivo de fatos, que não gozam de presunção juris tantum. Os fatos compreendem o imóvel em termos fáticos e sua configuração geodésica, assim como a qualificação dos sujeitos, entre outros. A descrição geodésica do imóvel na matrícula, assim como os dados identificadores dos sujeitos não gozam da mesma presunção que os direitos inscritos.
Por outro lado, a descrição correta dos elementos fáticos é imprescindível para a segurança jurídica dos direitos constituídos ou declarados por meio do ato registral. Exemplificando, para segurança jurídica de um direito real, é necessário que se saiba com exatidão sobre qual bem real o direito incide. Por isso, a matrícula do imóvel – fólio real – exige a descrição geodésica pormenorizada, só assim aumentará a certeza e, por consequência a segurança, em termos de incidência do direito sobre o bem real.
Portanto, para a constituição, transferência e extinção de direitos relacionados com o direito de propriedade imobiliária é necessário, não apenas a publicidade registral, mas, que ela tenha como suporte fático e jurídico uma folia real com a especialização do bem imóvel. Sem estes pressupostos não se torna seguro e oponível em relação a terceiros, sem afastar a ideia de que a publicidade registral é indispensável para a disponibilidade dos direitos.
Numa perspectiva da segurança jurídica dinâmica, ou seja, aquela que protege o comércio e o crédito predial, tivemos recentemente uma inovação legislativa – Lei 13.097/2015 – estabelecendo que os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel informações que têm por objeto citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias; constrição judicial, ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença; restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei; e decisão judicial comprovando a existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência.
Isso quer dizer que se não forem averbadas as informações referidas, o terceiro que faz um negócio jurídico relacionado a determinado bem imóvel, será considerado de boa-fé, com base no princípio de que aquilo que não consta no Registro de Imóveis não está no mundo jurídico. Por isso, não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no Registro de Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados os alcançados pela ineficácia nos casos de decretação de falência e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de título de imóvel.
Em rápidas conclusões pode-se afirmar que o Registro de Imóveis brasileiro é uma instituição jurídica, que tem por fim dar segurança jurídica aos direitos inscritos, gozando de presunção juris tantum, com oponibilidade em face de terceiros, salvo nas hipóteses em que a própria lei afasta, assim como uma certa segurança jurídica de terceiros que realizam negócios jurídicos prediais.
Referências bibliográficas:
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos, Rio de Janeiro: Forense, 2007.
ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011
CARVALHO, Afrânio de. Registro de Imóveis, 4ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997.
CRETELLA JÚNIOR, Jose. Comentário à Constituição de 1988, Rio de Janeiro: Forense, 1993, Vol. IV
CUNHA, Paulo Ferreira de; DIP, Ricardo. Propedêutica jurídica: uma perspectiva jusnaturalista, Campinas-SP: Millenium, 2001
DIP, Ricardo Henry Marques. O Registro de Imóveis e o Processo Constituinte de 1988. Disponível em: <http://www.irib.org.br/html/biblioteca/biblioteca-detalhe.php?obr=188#d) SEGURANÇA ESTÁTICA E DINÂMICA. Acessado em: 30 de junho de 2015
ERPEN, Décio Antonio. Da responsabilidade civil e do limite de idade para aposentadoria compulsória dos notários e registradores, Revista de Direito Imobiliário, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 22, n.° 47, 1999
GROSSI, Paolo. El orden jurídico medieval. Madrid: Marcial Pons, 1996.
JUSTEN, Mônica Spezia. A noção de serviço público no direito europeu, São Paulo: Dialética, 2003
MACIEL, José Fábio Rodrigues. Pluralismo e unicidade na busca da segurança jurídica. Revista Sociologia Jurídica, n.º 06 – N.º 06 – Janeiro-Junho/2008. Disponível em: http://www.sociologiajuridica.net.br/numero-6/250-pluralismo-e-unicidade-na-busca-de-seguranca-juridica-jose-fabio-rodrigues-maciel> Acesso em: 29 de junho de 2015
MAZOYER, Marcel, 1933História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea Marcel Mazoyer, Laurence Roudart; [tradução de Cláudia F. Falluh Balduino Ferreira]. – São Paulo: Editora UNESP; Brasília, DF: NEAD, 2010
MELLO, Celso Antônio Bandeira de, Prestação de serviços públicos e administração indireta, 2ª ed. São Paulo: RT, 1979
PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La seguridade jurídica: uma garantia del Derecho y La Justicia. Boletín de la Faculdad de Derecho, Num 15, 2000. Disponível em: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:BFD-2000-15-48A09575/PDF Acesso em: 15 de março de 2015
SACHA Calmon Navarro Coelho, Curso de Direito Tributário Brasileiro, 4ª edição, Ed. Forense, RJ, 1999
SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição, São Paulo: Malheiros, 2005
TÁCITO, Caio. Direito administrativo, São Paulo: Saraiva, 1975
WIEACKER, Franz. História do direito privado moderno. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1967.
[1] Doutor em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul-UNISC. Mestre em Desenvolvimento Regional, com ênfase em Político-Institucional pela Universidade de Santa Cruz do Sul-UNISC. Professor de Direito Administrativo, Registros Públicos, Contratos em Espécie no Curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul-UNISC. Professor e Coordenador de Cursos de pós-graduação lato sensu na Universidade de Santa Cruz do Sul-UNISC e Professor convidado de outras Instituições de Ensino Superior.